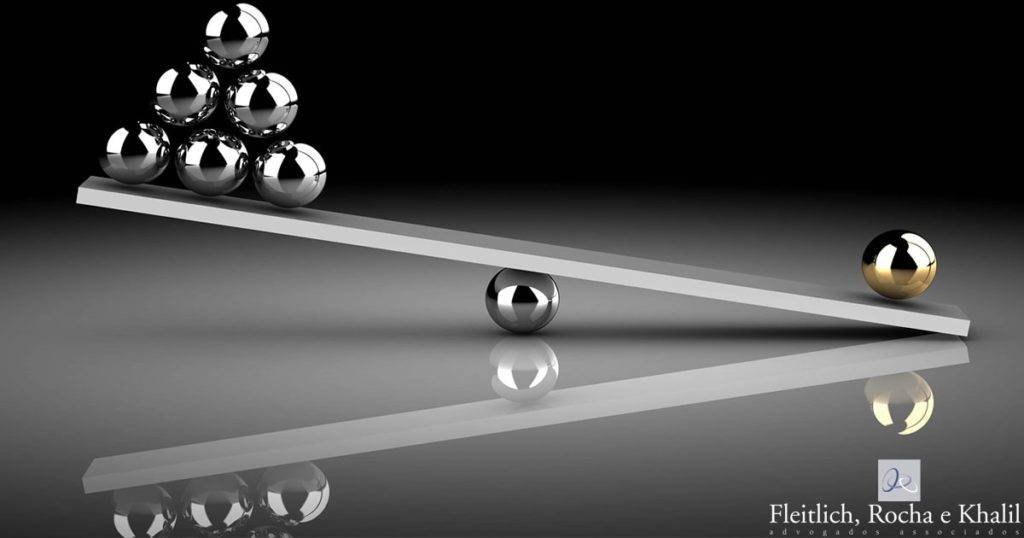O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) permitiu a uma construtora em recuperação judicial incluir no seu processo todos os credores referentes a um empreendimento com patrimônio de afetação. Isso significa que a devedora vai poder negociar, por exemplo, com o banco que financiou a obra – o que, segundo advogados, não é comum nas decisões sobre o tema.
Ela terá, para isso, que elaborar um plano de pagamento exclusivo para a sociedade de propósito específico (SPE) que foi criada para a construção do empreendimento. Deverá ser realizada uma assembleia de credores separada e o plano terá de ser aprovado de forma independente. Além disso, os ativos dessa obra só poderão ser direcionados a esses credores.
Isso quer dizer que o processo da SPE criada para a construção do empreendimento não poderá se confundir com o das outras empresas, do mesmo grupo econômico, que estão em recuperação judicial (apesar de a tramitação ocorrer em litisconsórcio).
O chamado patrimônio de afetação foi instituído em 2004, pela Lei nº 10.931, como consequência do fenômeno Encol – uma das maiores construtoras do país, que quebrou no fim da década de 90, deixando obras inacabadas e mais de 40 mil clientes a ver navios. A legislação foi criada com a intenção de proteger o consumidor.
Por isso há tanta discussão, no meio jurídico, sobre a possibilidade de as empresas que têm o patrimônio de afetação entrarem em recuperação judicial. A lei prevê, basicamente, que os ativos do empreendimento não podem ser usados pelo incorporador para outros fins – que não o próprio empreendimento – até a conclusão da obra e o cumprimento de todas as obrigações (entrega das unidades e pagamento da instituição financiadora, por exemplo).
Os recursos desse empreendimento, então, não podem servir para o custeio de outras construções capitaneadas pela mesma incorporada. E, da mesma forma, não pode esse empreendimento ser atingido por credores da incorporadora caso ela passe por dificuldade financeira – os efeitos da falência, por exemplo, não atingem os patrimônios de afetação que foram constituídos pelo incorporador.
Para os desembargadores do Distrito Federal que julgaram o caso, no entanto, não haverá confusão patrimonial – e a exigência prevista na lei, sobre a segregação do patrimônio, estará sendo cumprida – se houver um plano de recuperação específico à SPE.
“A decisão não coloca em risco o chamado patrimônio de afetação, ao contrário, confere a incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado”,
afirma em seu voto a relatora, desembargadora Fátima Rafael.
O entendimento dela, ainda, é o de que não seria razoável impedir tal processo de recuperação só para garantir que o banco receba os valores aos quais têm direito nas datas acordadas. A relatora cita, na decisão, a Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O dispositivo estabelece que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes dos imóveis.
A súmula se aplica, segundo a interpretação da desembargadora, porque o caso em análise envolve uma empresa que não está em boas condições financeiras e que pode se reorganizar em uma recuperação judicial, entregar as unidades habitacionais aos consumidores e com os valores recebidos quitar a dívida com a instituição financeira.
O voto da relatora foi seguido, de forma unânime, pelos demais desembargadores que julgaram o caso na 3ª Turma Cível do TJ-DF (processo nº 0705074-95.2018.8. 07.0000) e permitirá que a empresa negocie, dentro da recuperação judicial, com o banco que financiou o empreendimento e também com os fornecedores da obra.
“Esse patrimônio vai servir para pagar dívidas exclusivas à incorporação”,
diz a representante da companhia no caso, a advogada Juliana Bumachar, do Bumachar Advogados Associados. O que não estiver relacionado à obra, segundo ela, mesmo que correspondente à SPE, não entra nessa conta. Por exemplo, um empréstimo para custear as ações de marketing.
O patrimônio de afetação não é uma obrigação do incorporador. Ele pode escolher entre um empreendimento com ou sem.
“Existem muitos desse tipo no mercado porque há um incentivo do governo federal para isso”,
contextualiza Alberto Zurcher, sócio do ZRDF Advogados.
“Os tributos que incidem sobre a venda das unidades, que é de 6,73%, cai a 4%”,
acrescenta.
Quando entrou em processo de recuperação judicial, a PDG, uma das maiores construtoras do país, por exemplo, tinha mais de 30 empreendimentos com afetação. A empresa chegou a elaborar um plano de pagamento para cada uma delas – aos moldes do que decidiu o TJ-DF – mas após negociação com os bancos, optou por deixar as SPEs com o patrimônio de afetação de fora do processo. A contrapartida dos bancos, para isso, seria manter o financiamento das obras.
Uma das precursoras dessa discussão, no entanto, foi a Viver Incorporadora e Construtora. A companhia tentou, em um primeiro momento, apresentar um plano único de recuperação para todas as suas empresas – entre elas 16 SPEs com patrimônio de afetação. Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) avaliaram, porém, que o patrimônio afetado sequer poderia ser levado à recuperação.
Ainda não há, no entanto, uma jurisprudência firmada sobre o assunto e especialistas na área acreditam em uma tendência de flexibilização – aos moldes do que ocorreu no julgamento do TJ-DF.
“É preciso possibilitar à construtora a recuperação das suas atividades. Se o patrimônio de afetação estiver sendo respeitado, como prevê o plano único, não há argumentos para não permitir”,
entende o advogado Paulo Palermo, do escritório Palermo e Castelo.
As construtoras, ele diz, precisam de financiamento para a obra porque os adquirentes não arcam com cem por cento do contrato durante o período de construção.
“Só que quando a empresa passa por dificuldades financeiras e deixa de pagar ao banco, ele para de liberar o dinheiro e a obra acaba parando”,
contextualiza. Isso não significa, segundo o advogado, que o empreendimento seja deficitário por si só.
“O que existe é uma necessidade de financiamento. E é por isso que a recuperação judicial casa como uma luva para esses casos. Dá fôlego para a construtora terminar o empreendimento”,
completa Palermo.